Autor: Cristina Vélez Vieira
13 de fevereiro de 2024
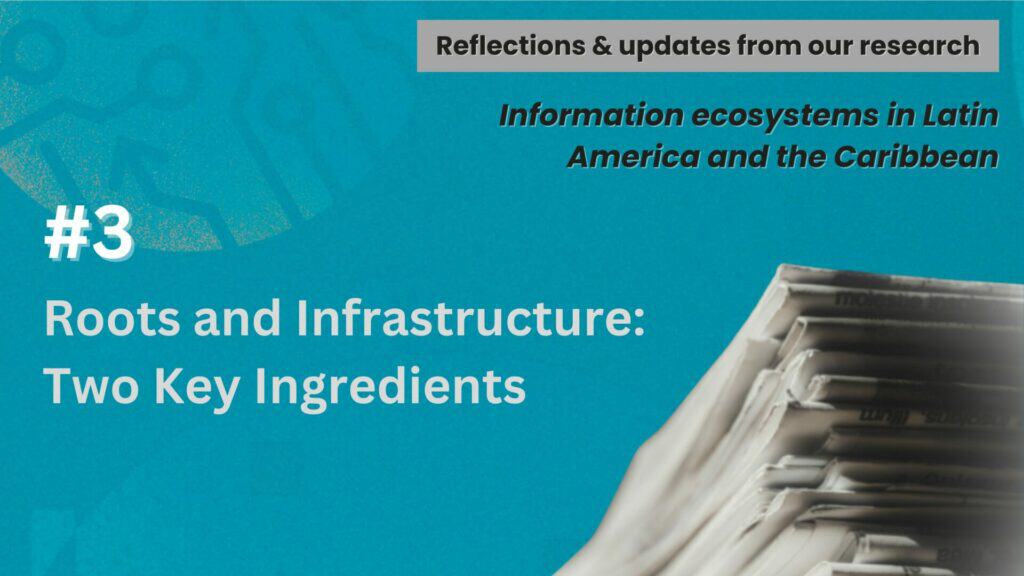
Nas últimas semanas nos dedicamos a realizar entrevistas para identificar como diferentes grupos estão fortalecendo, pensando e repensando o ecossistema de informação na América Latina (veja mais sobre este projeto).
Ao conversar com jornalistas, organizações da sociedade civil e acadêmicos de 13 países da região, ficou claro para nós que o ecossistema de informação é complexo e composto por vários biomas interconectados, com dinâmicas internas próprias, tanto em espaços analógicos quanto digitais.
Muitas pessoas nos relataram que esses biomas não são apenas compostos de informações, conteúdos e narrativas produzidas e compartilhadas por diferentes atores, mas também são os locais onde as pessoas tentam construir um senso de legitimidade e identidade. Ao longo de nossas conversas, especialistas apontaram com frequência a desordem informacional como um sintoma de um problema maior. Esta percepção ecoa a noção compartilhada pelo jornalista Jeff Jarvis de que a “crise da democracia não é apenas sobre informação”, mas sim uma crise de pertencimento.
As pessoas especialistas com quem conversamos sugeriram que a saída para a situação atual poderia, portanto, estar no enraizamento (trabalhar a partir das raízes); ou seja, localizar e territorializar as informações, além de vinculá-las a contextos mais comunitários – algo também apontado pelas jornalistas Nina Weingrill e Izabela Moi, que, desde a pandemia, vêm analisando “a urgência de investir em ecossistemas de notícias locais”.
Nessa mesma linha, o Nieman Lab, centro especializado em analisar o papel do jornalismo na sociedade, prevê que em 2024 as redações jornalísticas começarão a trabalhar mais estreitamente com organizações de base e ativistas, pois, para além da “indústria de notícias” a prioridade será reconstruir algo mais amplo: o diálogo com a sociedade civil.
Por meio de nosso mapeamento conseguimos encontrar alguns exemplos pioneiros e percebemos que essa tendência começou a se desenvolver na América Latina.
ALTERNATIVAS À “FADIGA DE NOTÍCIAS/ DE INFORMAÇÕES”
A criação de comunidades em tempos incertos está se tornando uma prioridade tanto para grupos de mídia quanto para organizações da sociedade civil. Por exemplo, a LatFem, um meio de comunicação feminista argentino, auxiliou mulheres a se unirem para desenvolver campanhas de comunicação popular em seus bairros durante a última eleição. Por meio de uma mistura de “cartazes, estêncil, pintura de rua”, com grupos de conversa, moderados pelas próprias mulheres no Whatsapp, elas tiraram dúvidas e trabalharam para reconstruir a confiança no sistema eleitoral e incentivar as mulheres a votar.
Há também a VitaActiva, uma linha direta de apoio para jornalistas, ativistas e defensoras que tenham enfrentado violência digital através de seus trabalhos. A diretora Nicole Martin nos contou que se esses tipos de situações não forem abordadas a tempo, elas acabam afetando a saúde, a motivação, as rotinas e o trabalho de pessoas importantes no ecossistema de informações da região. Esse é um problema que continua crescendo na região, e de acordo com um relatório recente, 83% das mulheres editoras que escrevem sobre questões de gênero são afetadas por esse tipo de violência.
Algumas iniciativas tiveram avanços na geração de um senso de pertencimento e na conexão com a comunidade e o local. Por exemplo, a Rede Cidadã InfoAmazônia está fortalecendo a conexão entre comunicadores comunitários e a mídia independente para ampliar e tornar visíveis as histórias de resiliência climática.
“A relação entre essas organizações e seus territórios é extremamente importante para a circulação de informações. São elas que melhor conhecem os formatos corretos para organizar, produzir e distribuir conteúdo”, explica Débora Menezes, que foi coordenadora da rede.
Outra coisa que identificamos em nosso mapeamento é que em um mesmo país há áreas de saturação de informações e “desertos de informações”.
No Caribe, mas também em outros lugares da região, descobrimos que a cobertura política partidária está por todas as partes. Nos informaram de que, embora lá “eles tomem o café da manhã, o almoço e o jantar com o que o presidente faz”, há pouquíssimos repórteres trabalhando com questões de mudança climática. As histórias sobre o clima estão presentes em apenas 2% das notícias publicadas em nível regional, de acordo com um estudo da Libélula com outros parceiros.
Por exemplo, uma pessoa entrevistada descreveu como em seu país, Porto Rico, não há cobertura suficiente sobre a erosão costeira, incluindo sobre como as pessoas estão sendo afetadas e como o governo está trabalhando para conter seu impacto. É nesses tipos de contextos que o jornalismo hiperlocal está encontrando respostas, como no caso de La Isla Oeste em Porto Rico, Malayerba em El Salvador e La Región na Bolívia.
Outros projetos estão apostando em ouvir mais atentamente e tentar novas estratégias para “chegar onde estão as pessoas”. Com essa motivação surgiram vários projetos de jornalismo de soluções ou jornalismo participativo na região. Sua ideia é superar a “comunicação unidirecional” e chegar às pessoas com histórias e informações sem presumir que “já sabemos o que elas precisam”.
Por exemplo, a mídia digital El Otro País, no Paraguai, se dedica a gerar comunidade em torno das preocupações dos cidadãos no interior do país, que são muito diferentes daquelas da capital, Assunção. Desirée Esquivel, sua fundadora, organiza as “Meriendas Culturales”. Durante esses encontros, as pessoas se sentam, debatem, e buscam soluções coletivas para os problemas locais, que depois são cobertos por esse jornal. Esse foi o caso no contexto do fechamento abrupto da estrada Caacupé – Candia – Atyrá, que levou milhares de moradores a protestar porque tiveram que fazer um desvio de dois quilômetros para atravessar meio quarteirão.
Temos visto esforços para fortalecer o “diálogo cidadão”, com a promoção de espaços de discussão para reunir “desconhecidos com desconhecidos”. A ideia é criar um “senso comum” a partir do local.
Na Guatemala, o Instituto 25a faz isso no contexto da capital com seu projeto Avenida Comunidad, enquanto o Ojo con mi Pisto faz isso em zonas rurais. Esse grupo de jornalistas constrói diálogos sobre como os orçamentos municipais estão sendo utilizados nas zonas rurais, além de capacitar comunicadores comunitários para investigar a corrupção.
Por fim, na Colômbia se encontra a Mutante e seu projeto Opuestos Dispuestos, que gerou conversas entre a população migrante venezuelana e seus vizinhos sobre as formas de discriminação que sofrem no acesso à moradia.
O SONHO DE UMA INFRAESTRUTURA COLETIVA
Ao mesmo tempo, ouvimos muito sobre como todas essas novas iniciativas precisam de mais do que vontade, visão e boas vibrações para funcionar. Especialistas de toda a região apontaram que é necessário pensar em como fortalecer a infraestrutura. Há uma realidade material de longa data: falta de investimento público, restrições na apropriação de tecnologias e interrupções de internet na região.
Além disso, muitas pessoas descreveram os espaços digitais como cada vez mais fragmentados e privatizados. Conforme ouvimos nas últimas semanas de várias vozes especialistas, as plataformas estão cada vez menos transparentes e abrem menos dados para que a sociedade civil e pessoas pesquisadoras investiguem a desinformação ou os sistemas de recomendação de conteúdo que possam gerar polarização ou reforçar estereótipos.
Da mesma forma, as pessoas entrevistadas destacaram as formas estruturais e de longa data de discriminação racial, de gênero e socioeconômica que afetam o acesso à tecnologia e aos canais de comunicação na região.
Na Bolívia, por exemplo, há três idiomas oficiais além do espanhol, mas a disponibilidade de mídia ou fontes de informação em idiomas indígenas é limitada, ainda que quase 40% da população do país seja de origem indígena.
Na Colômbia, a organização Ilex nos contou que, no caso do Pacífico colombiano, as informações legais, inclusive aquelas ligadas à consolidação dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, não chegam às populações negras. Isto ocorre porque o Estado não contextualiza nem distribui informações por meio dos canais que essas comunidades consultam.

